Marcela Uchoa
Resumo:
A politização da justiça e o recorrente uso instrumental do campo das emoções para manipulação de casos de grande repercussão de maneira simplista e mediática não são um fenómeno novo. Seja nas ciências jurídicas, seja na reflexão filosófica a preocupação com a responsabilidade política do ato de julgar encontram seu lugar num debate mais alargado que reivindica que se considere de maneira mais concreta as estruturas responsáveis pelo esfacelamento político e ético das instituições e do espaço público. A mediatização exaustiva e televisionada da “justiça” parcial não foi capaz de dar resposta ao terror, antes, os meandros do seu desenvolvimento só demonstraram a obliteração da capacidade de compreender o desmantelamento moral de tais eventos por carência de categorias conceituais compatíveis com esse fenómeno político.
O que interessa a Hannah Arendt é a reflexão acerca das estruturas que permitem comportamentos tão banais, e não menos cruéis, que só são possíveis por encontrarem espaço em um mal sistémico que não só envolve várias pessoas, como motivações distintas. Essa constatação não impediu Arendt de reconhecer que Eichmann era culpado e deveria ser imputado por seus crimes, mas esclarece como o falhanço, quer na ordem ética, quer na ordem jurídica do julgamento de Eichmann, oculta a dificuldade em compreender que em uma sociedade totalitária – como defendia Hitler – não há mais lugar para os juízos éticos ou jurídicos: nesse formato de sociedade, também se encontra o sonho da burocracia perfeita, em que quem decide é ninguém, o que por definição torna os indivíduos quase inimputáveis. Nesse sentido, o diagnóstico feito por Arendt pode ser entendido como um compromisso dela por procurar entender esse mal sistémico de forma orgânica.
Introdução
O julgamento de Adolf Eichmann, que teve início em 11 de abril de 1961, marca não só um dos processos mais mediatizados da história, como também a instrumentalização racional feita por Eichmann da lei moral kantiana e do rigor da mesma. Ficou célebre a sua justificação da obediência cega às ordens de extermínio em massa de milhares de pessoas pelo apelo à máxima kantiana[1]. Por outro lado, toda a estruturação do julgamento, desde o processo aos simbolismos que permearam o ato jurídico, deixaram sinais evidentes da possibilidade da instrumentalização do direito para fins políticos.
Com carreira já consolidada, Hannah Arendt foi a enviada especial para fazer a cobertura do julgamento para a revista New Yorker. No conjunto de reportagens sobre o caso Eichmann – posteriormente publicado em formato de livro em versão expandida –, levantou questionamentos polémicos que viriam a marcar todo o pensamento político contemporâneo. Em Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, ao nos apresentar a “banalidade” perigosa de um algoz comum, pacato e não menos destrutivo, Arendt acaba por conferir não só a ele, mas a qualquer ser humano, a capacidade de colaborar com sistemas de extermínio e opressão em massa devastadores.
Para além da repercussão negativa que a análise do julgamento do burocrata nazi lhe rendeu, a sua interpretação crítica da ordem jurídica não foge à regra das observações já trazidas na sua obra anterior Origens do Totalitarismo[2], ao tratar de outras temáticas também polémicas. O pensamento político de Hannah Arendt surge do confronto com a catástrofe que define o século XX, a Shoah. Como afirma Christian Volk[3], dificilmente qualquer outro pensador dos últimos cem anos pensou nas consequências da “rutura da civilização” com tanta consistência e intensidade. Em contraste com muitos outros autores da sua época, a argumentação de Arendt não se afasta da esfera política diante da crise. Considera que o desmantelamento da esfera pública e o individualismo foram fatores decisivos no estabelecimento do nazismo. Portanto, é notável que Arendt, ao concluir o seu volumoso trabalho sobre os elementos do totalitarismo, se volte para a pergunta “O que é política?” – pergunta que permaneceria de forma central nas suas obras até à sua morte. A política perpassou os debates de Arendt sobre os direitos humanos, sobre a sua interpretação da questão social, a relação entre pensamento, ação e poder de julgamento, sobre a revolução e sobre a banalidade do mal. No entanto, tendo em conta toda a atividade no campo da pesquisa sobre Arendt, é surpreendente que uma questão tenha permanecido em grande parte ignorada: a questão da natureza e do significado do direito no pensamento de Hannah Arendt. Mediante a linha ténue que perpassa as teorias do direito e da filosofia, neste ensaio interessa-nos entender como a política e a justiça podem vir a ser racionalmente instrumentalizados para fins morais e/ou políticos escusos. Procuraremos, ainda, problematizar a instituição dos direitos humanos a partir do pensamento de Hannah Arendt. Interessa-nos a instituição dos direitos humanos enquanto ferramenta que deve zelar pelo reconhecimento e pela garantia da dignidade de todos os seres humanos, bem como os seus limites. Ainda que as repúblicas sejam regidas por leis, precisam da desobediência para não ser seduzidas pela alienação política que transforma atos hediondos em ações banais caracterizadas pela omissão.
1 – Eichmann e a instrumentalização da lei moral de Immanuel Kant
Se considerarmos que as crises do republicanismo subjazem àquilo que ainda não foi superado do imperialismo, a instrumentalização das teorias políticas e filosóficas como artifício para justificação de projetos de poder – seja por meio de atos ou de omissões – é das estratégias mais utilizadas. É nessa linha argumentativa que Hannah Arendt volta o seu olhar para o julgamento de Eichmann. A sua escrita foge à obviedade esperada da análise política de uma teórica de origem judaica e inscreve-se como um dos ensaios mais influentes do século XX. O texto Eichmann em Jerusalém serviria como pano de fundo para debates e reflexões críticas que viriam a transformar e reformular toda teoria política contemporânea, seja em concordância ou em dissonância relativamente à argumentação de Arendt.
O debate trazido por Arendt faz-nos repensar a própria problemática à volta da moralidade obediente que é, não uma compreensão inadequada da ética, mas uma certa forma de “cegueira” moral. Baseada nas ordens do Führer, as leis nazis inscreviam-se – para os que estavam sob seu comando – como nova lei na terra. É a partir dessa prerrogativa que o burocrata Adolf Eichmann[4] se autoproclama como um mero cidadão cumpridor da lei, ou seja, apesar de ser um funcionário das SS, ele não só obedecia a ordens, mas sobretudo obedecia à própria normativa jurídica vigente[5]. Segundo Hannah Arendt,
Eichmann tinha uma vaga noção de que isso podia ser uma importante distinção […]. As moedas bem gastas das “ordens superiores” versus os “atos de Estado” circulavam livremente; haviam dominado toda a discussão desses assuntos durante os julgamentos de Nuremberg, pura e simplesmente por dar a ilusão de que algo absolutamente sem precedentes podia ser julgado de acordo com precedentes e seus padrões[6].
Desde Origens do Totalitarismo, Arendt já denunciava que regimes totalitários ganhavam força na medida em que transformavam cidadãos em indivíduos supérfluos. Ao seguir cegamente normativas políticas, sociais e económicas, nada mais eram do que instrumentos totalitários. Nesta perspetiva, a ideia de um mal diabólico, característico da teologia cristã – ou mesmo de um mal radical, como enunciado por Kant –, tornava-se cada vez mais distante quando “[…] não temos nada para entender um fenómeno que, no entanto, nos confronta com sua realidade avassaladora e quebra todos os padrões que conhecemos”[7].
Eichmann, o burocrata nazi, um aparente homem banal, desafia o senso comum e levanta a questão de que, para além de cumprir aquilo que ele concebia como dever de um cidadão que respeita as leis, também estava a obedecer a ordens. Segundo a narrativa de Arendt, apesar de claramente confuso, Eichmann parecia ter alguma noção (ainda que distante) de que havia questões subjacentes mais importantes que a obediência do soldado que cumpre ordens de natureza criminosa:
[…] quando ele declarou, de repente, com grande ênfase, que tinha vivido toda a sua vida de acordo com os princípios morais de Kant, e, particularmente, segundo a definição kantiana do dever. Isso era aparentemente ultrajante, e também incompreensível, uma vez que a filosofia moral de Kant está intimamente ligada à faculdade de juízo do homem, o que elimina a obediência cega[8].
Apesar de distorcida, a definição quase correta do imperativo categórico de Kant feita por Eichmann deixa clara a facilidade com que os conceitos filosóficos podem ser racionalmente instrumentalizados. Nessa esteira, teorias que baseiam a própria noção de direitos humanos e direitos fundamentais escapam ao rigor da sua intencionalidade, e encontram na instrumentalização política alienada o seu uso para fins escusos. Como esclarece Arendt ao reproduzir o discurso de Eichmann:
“O que eu quis dizer com minha menção a Kant foi que o princípio de minha vontade deve ser sempre tal que possa se transformar no princípio de leis gerais” (o que não é o caso com roubo e assassinato, por exemplo, porque não é concebível que o ladrão e o assassino desejem viver num sistema legal que dê a outros o direito de roubá-los ou matá-los). Depois de mais perguntas, acrescentou que lera a Crítica da razão pura, de Kant. E explicou que, a partir do momento em que fora encarregado de efetivar a Solução Final, deixara de viver segundo os princípios kantianos, que sabia disso e que se consolava com a ideia de que não era mais “senhor de seus próprios atos”, de que era incapaz de “mudar qualquer coisa”[9].
O que Eichmann parece afirmar é que, enquanto o sistema nazi tratava judeus como excluídos sociais, tinha em sua defesa o facto de que estava apenas a obedecer à própria lei vigente. Entretanto, a partir do momento em que a “solução final” é implementada e o ditador afirma a sua soberania para além da lei, o funcionário obediente passa a seguir os preceitos do soberano como nova normativa que conduz os seus atos.
Em Jerusalém, confrontado com provas documentais da sua extraordinária lealdade a Hitler e à ordem do Führer, Eichmann tentou muitas vezes explicar que durante o Terceiro Reich “as palavras do Führer tinham força de lei” (Führerworte Gesetzeskraft hatten[10]), o que significava, entre outras coisas, que uma ordem vinda diretamente de Hitler não precisava ser escrita. Ele tentou explicar que, por isso, nunca havia pedido uma ordem escrita a Hitler (nenhum documento relativo à Solução Final foi encontrado; provavelmente nunca existiu nenhum). Sem dúvida era um estado de coisas fantástico, e bibliotecas inteiras de comentários jurídicos “abalizados” foram escritas demonstrando que as palavras do Führer, seus pronunciamentos orais, [eram a lei de base do Estado (das Grundgesetz des Staates waren)][11]
O que o burocrata nazi faz é distorcer o imperativo categórico kantiano de tal forma que o seu princípio seja o mesmo princípio das ações do legislador, ou da legislação vigente. Nesse caso, tal significaria agir de acordo com a vontade do Führer, obedecendo às suas ordens expressas ou tentando antecipar, contra faticamente, o que seria, por hipótese, a sua vontade em determinada situação concreta. Mas isso vai ao arrepio da autonomia, traço essencial da moral kantiana.
Ao contrário, para Kant, todo homem é legislador a partir do momento em que age: característica que chama de “razão prática”, lugar no qual o ser humano tem a possibilidade de confrontar-se com os princípios da lei.
Kant, na Crítica da Razão Pura[12], defende que a norma ética compreende a esfera moral ou jurídica enquanto conduta que regula tanto o mundo interior – do homem perante si próprio (perante a sua consciência) – quanto o mundo exterior (do homem perante o seu semelhante ou diante da sociedade). Assim, a razão pura, que se caracterizava pela sua potencialidade que rege as normas técnicas, científicas e artísticas, juntamente com a razão prática que se distinguia por se efetivar in acto, formavam os dois imperativos que ordenavam o mundo do espírito e o convívio humano[13].
No uso equivocado que Eichmann faz do imperativo categórico este tenderia a confundir-se com a própria vontade do Führer. Nesse quadro “legal”, toda a ordem que se opusesse a Hitler seria, indubitavelmente, ilegal. Assim, a máxima kantiana que espera que os cidadãos possam ir além de apenas obedecer à lei, mas que sejam capazes de identificar a sua própria vontade com o princípio que está por trás da lei – que, na filosofia de Kant, tem lugar na chamada razão prática[14] –, é totalmente negligenciada.
2– A banalidade do mal na banalidade sistémica
É percetível que a execução da Solução Final só seria possível com o empenho característico de um burocrata obediente – cumpridor escrupuloso de leis, sem as questionar minimamente. Mas, apesar da análise de Arendt ter ficado conhecida pela constatação de que um funcionário obediente seria capaz de cometer crimes contra a humanidade, ela não nega que Eichmann era mais que isso.
No Capítulo VIII do livro Eichmann em Jerusalém, intitulado “Deveres de um cidadão respeitador das leis”, Arendt descreve como Eichmann não se limitou apenas a obedecer a ordens[15]. Não se tratava, tão somente, de uma questão moral, mas de interesses, já que em determinados momentos Eichmann parecia ter orgulho da função que executava e, em outros momentos, não se furtava de narrar como ultrapassara ordens de Himmler para suspender deportações em 1944, quando a Alemanha nazi estava prestes a perder a guerra, ou para deixar escapar com vida um ou outro conhecido à custa de favores[16].
O que está em causa, então, é a noção tradicional do mal, em que pessoas comuns, em circunstâncias normais, não seriam capazes de praticar crimes, ou não poderiam ser pessoas respeitáveis. Foi precisamente a natureza comum desse “mal” que levou filósofos e psicólogos, após a segunda guerra mundial, a examinar a natureza da autoridade burocrática.
Como afirma Lawrence Quill: “
Enquanto autores como Adorno e Erich Fromm concentraram as suas análises no poder hipnotizante da personalidade política, o exame de Hannah Arendt sobre o carácter de Adolf Eichmann quando ele foi julgado em Jerusalém, ilustrou a natureza muito comum desse criminoso de guerra em particular. Os seus motivos não eram monstruosos ou demoníacos. Ele também não era um autómato irracional”[17].
É nesse sentido que Arendt procura demonstrar que atos atrozes são cometidos sobretudo por cidadãos comuns, que não precisam de ter uma motivação exata, ou fazer parte de convicções político-ideológicas – são simplesmente pessoas que renunciaram à sua dignidade humana. Ou seja, o intuito não é eximir um burocrata de crimes contra a humanidade, mas, pelo contrário, assumir que uma pessoa ao renunciar ao pensamento e à ação, ou ao guiar os seus parâmetros morais apenas à base de conceitos individuais, é capaz de ir até às últimas consequências e cometer crimes contra a humanidade.
Arendt levanta, então, a questão: “Como podemos pensar e, ainda mais importante em nosso contexto como podemos julgar sem nos sustentarmos em padrões preconcebidos, normas e regras gerais em que os casos e exemplos particulares podem ser subsumidos? Ou, em outras palavras, o que acontece à faculdade humana de julgamento quando confrontada com ocorrências que significam o colapso de todos os padrões costumeiros e, assim, não possuem precedentes, no sentido em que não são previstas as regras gerais, nem mesmo como exceções a essas regras?”[18].
Para além de entender o que se passava na cabeça de Eichmann, interessava a Arendt perceber o que pensaram aqueles poucos que, ao contrário dele, se opuseram ao senso comum que permeia a ação impensada e foram capazes de resistir ao “mal” que se impunha de maneira avassaladora. Para tal, retorna a Kant e à capacidade de autonomia do pensamento diante do poder hegemónico estabelecido. Trata-se de uma reflexão à volta do modus operandi que direciona a capacidade humana de julgar. Segundo André Duarte, é nas suas últimas reflexões sobre a vida do espírito que a possibilidade das capacidades de pensar e julgar como instrumentos capazes de impedir a disseminação do mal no mundo ganha força: “[…] propor tais questões implicava reaprender a lidar com problemas éticos e políticos do presente sem poder confiar nos padrões morais, legais ou políticos do passado, ou do seu próprio tempo”[19].
Para Arendt é na dificuldade humana de pensar e julgar que reside a recusa em tomar parte contra o “mal”. Aqueles que lhe resistiram foram as pessoas capazes de fugir ao automatismo e de se perguntar como seriam capazes de conviver em paz consigo mesmos depois de terem cometido determinados atos, ou se omitido a tantos outros[20]. André Duarte pontua que a subversão desobediente que Arendt evoca nos que resistiram em compactuar com o terror do holocausto – ainda que desobedecendo silenciosamente a regras – não era nem de heróis, nem mesmo de cidadãos versados em teorias políticas, ou cumpridores de uma moral religiosa. A sua conduta subversiva consiste na sua capacidade de pensar e julgar por si:
A despeito da dificuldade de pensar e julgar na ausência de critérios gerais previamente concebidos e validados pela experiência passada, Arendt observou que alguns poucos indivíduos foram capazes de fazê-lo, resultando daí, supostamente, sua recusa em tomar parte no mal.[21]
Ou seja, na impossibilidade de resistir de forma direta ao “mal”, restava aos insubmissos a resistência silenciosa, e, por não colaborarem com o nazismo, punham em risco as suas próprias vidas. Com isso, Arendt não pretende oferecer soluções teóricas acabadas. Pelo contrário, reconhece que os resistentes que se manifestaram – ainda que silenciosamente – não foram menos transgressores e atores importantes da ação política. Segundo Duarte, para Arendt é o juízo reflexivo que permite uma mentalidade alargada que nos coloca no lugar do outro: “[…] o outro – ou outros – que represento pela imaginação em meu juízo – quanto o ‘outro’ que já trago junto a mim quando penso”[22]. Ao explicitar a posição de Arendt, ele afirma:
A tendência difundida da recusa de julgar. A partir da recusa, ou da capacidade de escolher os próprios exemplos e a sua companhia, e a partir da recusa, ou incapacidade de estabelecer uma relação com os outros pelo julgamento surgem os obstáculos reais que os poderes humanos não podem remover porque não foram causados por motivos humanos, ou humanamente compreensíveis. Nisso reside o horror, e, ao mesmo tempo, a banalidade do mal.[23]
Para Duarte, interessa perceber que Arendt contesta o pressuposto da filosofia moderna, que estabeleceu limites rígidos entre o eu e o outro a colocar a subjetividade como fundamento sobre o qual se constroem teorias políticas ou epistemológicas. Como também reflete Marilyn LaFay, em Hannah Arendt and the specter of totalitarianism:
Crucial para sua posição é o reconhecimento de que Eichmann é um símbolo da banalidade moderna, de que todos nós podemos nos tornar banais ao não prestar atenção ao quaestio agostiniano: “Eu me tornei uma pergunta para mim”. É apenas engajando-se nesse questionamento autorreflexivo que evadimos a compulsão moderna à “disciplina”[24].
O pensamento irreflexivo e mecânico denuncia a necessidade de conseguirmos compreender o que está fora do nosso quadro referencial. Enquanto cultura, tornamo-nos banais por causa desse foco restrito: a perda da capacidade de questionar. Por outras palavras, perdemos a capacidade de exercer o mais fundamental dos traços humanos: a consciência. Nesse aspeto, somos direcionados aos fundamentos filosóficos da filosofia de Arendt, em que podemos perceber que a banalidade do mal decorre da estupidez (dummheit), que consiste na incapacidade de julgar daquele que se tornou uma peça da máquina burocrática totalitária.
Assim, também a noção de espaço público, desenvolvida em A condição humana, não é indissociável da conceção de banalidade do homem moderno que perdeu a dimensão política da pólis grega. Como afirma António Marques, “é nesse sentido que ela nunca abandonou essa defesa de uma ‘vita activa’, cuja substância é da ordem do político, ou seja, um espaço público que se alimenta do discurso e do exercício do juízo”[25].
Esta constatação permite uma via alternativa à alienação, que reside precisamente na capacidade singular do ser humano de criar novos espaços políticos. O historiador britânico David Cesarani, no seu influente livro Becoming Eichmann: rethinking the life, crimes and trial of a “desk murderer”[26], acusa Arendt de ser ela própria a banalizar o mal quando relativiza a responsabilidade de Eichmann. Cesarani não vê em Eichmann a figura de um funcionário robotizado, pelo contrário, na sua biografia defende que se tratava de um administrador do holocausto que tinha plena compreensão da ideologia nazi.
Contudo, o historiador não nega a relevância do trabalho de Hannah Arendt. Logo na introdução do seu livro afirma que qualquer pessoa que escreva sobre o assunto labora à sombra do trabalho desenvolvido em Eichmann in Jerusalem. O perfil de Eichmann descrito por Cesarani[27] destoa do burocrata banal de Arendt, e, a partir da análise da natureza do seu antissemitismo, traça um perfil de uma figura convencional, filho da classe média austríaca, onde o antissemitismo era convencional, ainda que casual – descrição absolutamente comum na década de 1920.
Na Áustria, como qualquer cidadão comum, tinha amigos judeus, e até parentes judeus por afinidade. Para além de pormenores da vida de Eichmann, o que interessa a Hannah Arendt é a reflexão acerca das estruturas que permitem comportamentos tão banais, e não menos cruéis, que só são possíveis por encontrarem espaço num mal sistémico que não só envolve várias pessoas, como motivações distintas.
Essa constatação não impediu Arendt de reconhecer que Eichmann era culpado e deveria ser imputado pelos seus crimes: “Arendt concorda com a sua execução, não porque um quadro ético-jurídico conduza a tal, mas sim porque objetivamente participou do holocausto, sem remorso e ‘estupidamente’”[28].
Segundo António Marques, o falhanço, quer na ordem ética, quer na ordem jurídica do julgamento de Eichmann, oculta a dificuldade em compreender que numa sociedade totalitária – como defendia Hitler – não há lugar para os juízos éticos ou jurídicos: neste formato de sociedade, “[…] também se encontra o sonho da burocracia perfeita, em que quem decide é ninguém, o que por definição torna os indivíduos inimputáveis”[29].
Para Arendt, na medida que a burocracia totalitária desestabiliza a jurisprudência dos instrumentos legais que tradicionalmente apelam à intencionalidade ou à responsabilidade individuais, compromete a capacidade de se julgar juridicamente, seja pela ausência de normas, seja porque a própria burocracia totalitária “[…] destruiu por completo o tradicional quadro jurídico e, talvez mais decisivo ainda, moral”[30].
Nesse sentido, o diagnóstico feito por Arendt pode ser entendido como o compromisso da autora em procurar entender esse mal sistémico de forma orgânica. Mesmo a autopreservação, o sustento ou a conformidade, em última instância, podem resguardar a intenção consciente de infligir deliberadamente danos a outras pessoas. Trabalho que pode ser percebido notoriamente em Origens do Totalitarismo, quando tenta enquadrar o holocausto nessa mesma origem, e de forma mais específica em Eichmann em Jerusalém.
Mesmo depois desses dois livros, a continuidade do seu pensamento está sempre ligada à sua experiência e ao seu encontro com um mal sistémico – que percebo em Arendt como um reconhecimento da sua própria identidade judaica como questão política, que ocorreu em resposta à perseguição sistemática de judeus na Alemanha após 1933. É através da análise crítica ao próprio sistema que Arendt tenta desvelar desde as estruturas que norteiam os projetos de poder totalitário até às raízes imperialistas que assombram as democracias – para em última instância demonstrar as relações de poder que estão por trás da crise dos direitos humanos.
3 – A Razão dos direitos humanos
Os direitos humanos enquanto reivindicadores de justiça encontram seu lugar no direito de resistência – estabelecendo-se, assim, como mecanismo fundamental de cobrança para que a dignidade humana possa se colocar frente à norma, quando esta falta com o elemento justiça social. Entretanto, mesmo os direitos humanos encontram o seu limite quando passam a atuar como mecanismo racional de propagação da dominação, perdem o seu carácter crítico e passam a ser incorporados pela estrutura dominante. Intensamente positivados, aderem a um discurso conciliador, que legitima conflitos contrários à garantia dos próprios direitos fundamentais.
Na obra A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência[31], o sociólogo e jurista Boaventura de Sousa Santos elucida como a própria natureza e evolução do conhecimento científico fez uso de paradigmas que, em última instância, têm como objetivo legitimar o conjunto de teorias e valores que são considerados válidos pelo pensamento dominante num determinado tempo histórico, constituindo assim o modelo de racionalidade científica e jurídica. Para o sociólogo, cabe à teoria crítica romper com o dualismo entre conhecimento científico e o conhecimento proveniente do senso comum.
Se as constantes crises do capitalismo são sobretudo o colapso de um sistema doente, também são a brecha para o ressurgir de novos paradigmas que têm como função assumir e resolver as falhas do anterior.
Costas Douzinas[32] é um dos teóricos contemporâneos que adere à teoria crítica e defende que o discurso do direito está subjugado ao poder vigente. Advoga, sobretudo, a capacidade do sujeito de direitos, encontrando-se diante de uma ordem injusta (ou mesmo confrontado com uma norma injusta), se posicionar, e no exercício da sua cidadania ativa contribuir para a construção de um universo jurídico e político mais justo.
Em Human Rights and Empire: the political philosophy of cosmopolitanism, Douzinas reflete sobre o paradoxo de um humanitarismo contemporâneo que abandonou a política em favor de um suposto combate apolítico ao mal. Nesse sentido, na medida em que reconhece os direitos humanos como uma ferramenta importante contra o poder, problematiza o facto de o mundo ocidental se colocar no papel de salvador das vítimas de violência, o que fez com que os direitos humanos passassem a operar num mundo dividido. Argumenta que, na medida que a posição ideal, universal, dos direitos humanos – que se concretizou na sua capacidade de contribuir para a criação de identidades humanas – foi convertida num meio de regular a vida das pessoas, transformou-se numa ferramenta do poder público sobre a expressão de desejos individuais. Inspirado em Michel Foucault, o autor vê os direitos humanos como instrumento de controle, que na modernidade são muito mais difíceis de detetar, porque a liberdade e a igualdade se tornaram fundamentos ostensivos do sistema político, em que autonomia e soberania popular são as suas aplicações institucionais, concomitantemente com exclusões, exceções e separações que têm sido os companheiros inevitáveis da liberdade e da igualdade. Para Douzinas[33], a exploração dessa relação entre liberdade e subordinação exige uma mudança de perspetiva e um abandono da filosofia política liberal.
No contexto de eventos internacionais recentes, Douzinas[34] expôs como os direitos humanos chegaram a justificar uma nova configuração do poder político, económico e militar. Nessa esteira, o cosmopolitismo é a ideologia formal da nova ordem: a remoção da violência e a paz perpétua é o seu suposto fim. Mas na medida em que guerras, violência e tortura são o seu modus operandi, os direitos humanos passaram a codificar e “constitucionalizar” as fontes normativas do império.
Embora a soberania dos Estados e o princípio territorial tenham sido enfraquecidos, nenhum sentido de comunidade mundial se desenvolveu. Douzinas[35] resgata o debate trazido por Hannah Arendt no Capítulo IX de Origens do Totalitarismo, para demonstrar que mesmo os escravos atenienses, que viviam em condição de subjugação, tinham uma vida melhor que os apátridas do início do século XX, ou os refugiados da nossa época. Estes, ainda que sejam seres dotados de “direitos” em teoria, na prática não têm proteção efetiva.
Como refere Douzinas
Hannah Arendt escreveu que apátridas e refugiados não têm direitos porque ninguém quer oprimi-los. Há pessoas que foram abandonadas num estado de limbo que vai além da opressão, e cujas falta de direitos e desolação são maiores do que a dos escravos na Grécia clássica perante seus senhores que tinham obrigações específicas. Para Arendt, os direitos dos cidadãos são os únicos direitos dignos desse nome, enquanto os direitos do homem não existem ou são nomes impróprios que designam outro tipo de direitos. Arendt estava certa ao afirmar que “o homem que não é nada mais que um homem, perdeu as mesmíssimas qualidades que possibilitam que uma outra pessoa o trate como homem”[36].
O contexto histórico-político em que Arendt escreve Origens do Totalitarismo é marcado pela passagem de um período de inexistência de leis e instituições que garantissem qualquer estatuto fora do Estado-nação. De um ponto de vista legal e político isso mudou, já que leis e arregimentações foram agregadas ao direito internacional, ainda que, na prática, essa legislação esteja à mercê de acordos e relações de poder entre Estados. A argumentação de Arendt é utilizada por Douzinas[37] como resposta aos conservadores que defendem que os deveres devem ser introduzidos na legislação de direitos humanos.
Ainda que a lei legisle à volta das obrigações no que concerne a crimes ou delitos, os deveres morais não são tão facilmente legisláveis. Nesse sentido, a lei pode até vir a fortalecer o dever, mas cabe-lhe criá-lo. Na medida em que os direitos humanos são concedidos às pessoas pela sua condição humana, e não se caracterizam como propriedade, por pertencerem a uma nação, classe ou partidos políticos – aqueles que não estão sob amparo da lei, ou de grupos para protegê-los (refugiados, apátridas, prisioneiros) –, devem ter sua integridade garantida pelo simples facto de serem seres humanos. É sob esse prisma que Douzinas[38] afirma que os direitos humanos, conforme defende a filosofia liberal, não existem, no sentido em que o nascimento e a humanidade básica não vêm com nenhum direito vinculado.
Nesse sentido, é a política que cria direitos, e apenas os direitos civis criados politicamente e aplicados legalmente pelos sistemas jurídicos domésticos protegem os atores políticos, ou seja, os cidadãos.
O desafio diante do cenário exposto não se restringe apenas a compreender o ser humano a partir de uma perspetiva estritamente moral (restrição da crueldade), mas ontológica (tornar-se humano fora do estado da animalidade). Assim como a exceção sustenta a norma, a própria ideia de humanidade deve excluir a figura do não humano. O que Douzinas[39] visa denunciar é a necessidade de repensarmos os direitos humanos como ferramenta de emancipação, e não apenas instrumentalização para fins políticos individuais, ou de filantropia.
Assim como as pessoas, os Estados pobres sempre foram tratados como parceiros perigosos e, na pior das hipóteses, sem valor, ou como recetores sofredores e merecedores, que devem ter uma nova oportunidade e receber filantropia: “A ajuda e os direitos humanos são a versão contemporânea das esmolas e da escola dominical”[40].
Quanto à perceção da filantropia, é importante dizer que Arendt tem uma interpretação diferente da de Douzinas. Hannah Arendt vê no discurso filantrópico um papel importante que resguarda o sentido de comunidade internacional baseado na Caritas cidadã de Agostinho, que vai além do discurso hegemónico disseminado pelas religiões. Saul Tobias[41] argumenta que, apesar de Arendt não explorar extensivamente o papel de grupos e movimentos religiosos nas comunidades plurais, vê neles uma alternativa à política de massa do Estado-nação moderno.
O seu trabalho inclui indicações do potencial inerente à religião para servir exatamente como um veículo para a formação de novas formas de comunidade e responsabilidade. Na sua tese de doutoramento, em 1929, intitulada O conceito do amor em Santo Agostinho[42], Arendt defende uma base intelectual e afetiva mais pluralista de solidariedade e ação.
Nessa interpretação, abre espaço para um julgamento que ultrapassa questões teológicas, e tem como foco a maneira pela qual a conceção religiosa de Agostinho fornece a estrutura para um novo tipo de comunidade e responsabilidade pelo outro, que não é fundamentado no simples parentesco natural, nem nas relações políticas existentes.
A ideia agostiniana de amor, comunidade, caridade, em Arendt adere a uma forma republicana de cosmopolitismo. Conceção que irá acompanhá-la em todo seu percurso teórico para reforçar a sua crítica ao etno-nacionalismo, o que não impediu que fizesse duras críticas aos tribunais penais internacionais. Nessa perspetiva, a visão cosmopolita de humanidade de Arendt é, de certa forma, a sua resposta republicana aos problemas internacionais e à questão dos refugiados, por exemplo.
Conclusão
Do julgamento de Eichmann e da responsabilidade humana sobre a recusa do uso da sua faculdade de julgar, não nos interessava analisar em específico o debate moral à volta da postura de Eichmann, antes era importante perceber a linha ténue entre o político e o jurídico, bem como demonstrar a instrumentalização racional que o burocrata fez da lei moral kantiana para justificar a sua obediência cega às ordens que lhe foram impostas. Ademais, aqui também nos importa perceber os perigos da obediência cega à legalidade, já que, segundo a argumentação de Eichmann, toda a ordem que se opusesse a Hitler seria, indubitavelmente, ilegal. Dado o exposto sobre a banalidade do mal elucidada por Arendt, não deixa de se denunciar também uma banalidade sistémica, que, ao ser confrontada com os próprios limites e desafios dos direitos humanos, coloca a responsabilidade de uma ação vigilante, em resposta ao vazio da biopolítica.
Bibliografia
Arendt, Hannah. A condição humana. Traduzido por Roberto Raposo. 12ª ed. Corrigida e revisada por Adriano Correia. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
Arendt, Hannah. Der Liebesbegriff bei Augustin: versuch einer philosophischen Interpretation. Berlin: Springer, 1929.
Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Traduzido por José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Versão original: Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil. New York: Viking Press, 1965.
Arendt, Hannah. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Traduzido por Roberto Raposo. 8ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 2018. Versão original: The origins of totalitarianism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973.
Arendt, Hannah. Responsabilidade e julgamento. Traduzido por Rosaura Eichenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. Versão original: Responsibility and judgment. New York: Schocken, 2003.
Arendt, Hannah. The promise of politics. New York: Schocken, 2005.
Cesarani, David. Becoming Eichmann: rethinking the life, crimes and trial of a “desk murderer”. Cambridge: Da Capo Press, 2007.
Douzinas, Costas. Human Rights and Empire: the political philosophy of cosmopolitanism. Abingdon, Oxford, New York: Routledge-Cavendish, 2007.
Douzinas, Costas. The meanings of rights: the philosophy and social theory of human rights. New York: Cambridge University Press, 2014.
Duarte, André. Vidas em risco: crítica do presente em Heidegger, Arendt e Foucault. Rio de Janeiro: Forense, 2010.
Kant, Immanuel. Crítica da razão pura. Traduzido por Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
LaFay, Marilyn. Hannah Arendt and the specter of totalitarianism. New York: Palgrave Macmillan US, 2014.
Marques, António. A filosofia e o mal: banalidade e radicalidade do mal de Hannah Arendt a Kant. Lisboa: Relógio d’Água, 2015.
Santos, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente – Vol. I. Porto: Edições Afrontamento, 2002.
Quill, Lawrence. Civil disobedience: (un)common sense in mass democracies. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Tobias, Saul. «Pragmatic pluralism: Arendt, cosmopolitanism, and religion». Sophia 50, nº 1 (2011): 73-89. Disponível em https://doi.org/10.1007/s11841-010- 0190-8 (consultado em 26 jun. 2020).
Volk, Christian. Arendtian constitutionalism: law, politics and the order of freedom.
Oxford; Portland, Oregon: Hart, 2015.
[1] Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, trad.José Rubens Siqueira (São Paulo: Companhia das Letras, 2006), p. 153.
[2] Arendt, Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo, trad. Roberto Raposo. 8ª ed. (Lisboa: Dom Quixote, 2018).
[3] Christian Volk. Arendtian constitutionalism: law, politics and the order of freedom. Oxford; Portland, Oregon: Hart, 2015. p. 44.
[4] Burocrata dos campos de extermínio nazistas, pertencia diretamente ao corpo da SD (serviços de segurança) do aparelho nazi de controlo total. Eichmann foi chefe da secção de assuntos judeus no departamento de segurança de Hitler.
[5] Arendt, Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, trad. José Rubens Siqueira (São Paulo: Companhia das Letras, 2006), p. 153.
[6] Arendt, Eichmann em Jerusalém, p. 153. Na edição em inglês: “Eichmann had a muddled inkling that this could be an important distinction, but neither the defense nor the judges ever took him up on it. The well-worn coins of ‘superior orders’ versus ‘acts of state’ were handed back and forth; they had governed the whole discussion of these matters during the Nuremberg Trials, for no other reason than that they gave the illusion that the altogether unprecedented could be judged according to precedents and the standards that went with them” Arendt, Eichmann in Jerusalem: a report on the banality of evil (New York: Viking Press, 1965), p. 135).
[7] Arendt, Origens do Totalitarismo, p. 608.Na edição em inglês: “Therefore, we actually have nothing to fall back on in order to understand a phenomenon that nevertheless confronts us with its overpowering reality and breaks down all standards we know” Arendt, The origins of totalitarianism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973), p. 459.
[8] Arendt, Eichmann em Jerusalém, p. 153. Na edição em inglês: “[…] when he suddenly declared with great emphasis that he had lived his whole life according to Kant’s moral precepts, and especially according to a Kantian definition of duty. This was outrageous, on the face of it, and also incomprehensible, since Kant’s moral philosophy is so closely bound up with man’s faculty of judgment, which rules out blind obedience” Arendt, Eichmann in Jerusalem, p. 135.
[9] Arendt, Eichmann em Jerusalém, p. 153.Na edição em inglês: “‘I meant by my remark about Kant that the principle of my will must always be such that it can become the principle of general laws’ (which is not the case with theft or murder, for instance, because the thief or the murderer cannot conceivably wish to live under a legal system that would give others the right to rob or murder him). Upon further questioning, he added that he had read Kant’s Critique of Practical Reason. He then proceeded to explain that from the moment he was charged with carrying out the Final Solution he had ceased to live according to Kantian principles, that he had known it, and that he had consoled himself with the thought that he no longer ‘was master of his own deeds’, that he was unable ‘to change anything’” Arendt, Eichmann in Jerusalem, p. 135.
[10] O termo citado está corrigido: a edição brasileira diz “haben Gesetzeskraft”, mas o correto é “Gesetzeskraft hatten”.
[11] Arendt, Eichmann em Jerusalém, p. 165.A tradução brasileira diz “eram a lei no mundo”, mas esta não é a melhor tradução para o alemão que diz “das Grundgesetz des Staates waren”, ou seja, “eram a lei de base do Estado”. Na edição em inglês: “In Jerusalem, confronted with documentary proof of his extraordinary loyalty to Hitler and the Führer’s order, Eichmann tried a number of times to explain that during the Third Reich‘the Führer’s words had the force of law’ (Führerworte haben Gesetzeskraft), which meant, among other things, that if the order came directly from Hitler it did not have to be in writing. He tried to explain that this was why he had never asked for a written order from Hitler (no such document relating to the Final Solution has ever been found; probably it never existed), but had demanded to see a written order from Himmler. To be sure, this was a fantastic state of affairs, and whole libraries of very ‘learned’ juridical comment have been written, all demonstrating that the Führer’s words, his oral pronouncements, were the basic law of the land” (Arendt, Eichmann in Jerusalem, pp. 149-150.
[12] Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, 5ª ed. (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001)
[13] Kant, Crítica da Razão Pura, A 816 / B 844.
[14] Arendt, Eichmann em Jerusalém, p. 154.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Tradução livre da autora. No original: “While authors like Adorno (1969) and Erich Fromm (1965) focused their analyses on the mesmerizing power of political personality, Hannah Arendt’s (1963) examination of the character of Adolf Eichmann as he stood trial in Jerusalem, illustrated the very ordinary nature of this particular war criminal. His motives were not monstrous or demonic. Nor was he a mindless automaton” Lawrence Quill, Civil disobedience: (un)common sense in mass democracies (New York: Palgrave Macmillan, 2009), p. 45.
[18] Arendt, Responsabilidade e julgamento, trad. Rosaura Eichenberg (São Paulo: Companhia das Letras, 2004), p. 89. Na edição em inglês: “How can you think, and even more important in our context, how can you judge without holding on to preconceived standards, norms, and general rules under which the particular cases and instances can be subsumed? Or to put it differently, what happens to the human faculty of judgment when it is faced with occurrences that spell the breakdown of all customary standards and hence are unprecedented in the sense that they are not foreseen in the general rules, not even as exceptions from such rules?” Responsibility and judgment. New York: Schocken, 2003, pp. 26-27.
[19] André Duarte, Vidas em risco: crítica do presente em Heidegger, Arendt e Foucault (Rio de Janeiro: Forense, 2010), p. 442.
[20] Arendt, Responsabilidade, p. 107.
[21] André Duarte, Vidas em risco, p. 442.
[22] Ibid., p. 445.
[23] Duarte, Vidas em risco, p. 448; Arendt, Responsabilidade, p. 212.
[24] Tradução livre da autora. No original: “Crucial to her position is the recognition that Eichmann is symbolic of modern banality, that we can all become banal by failing to heed the Augustinian quaestio: ‘I have become a question unto myself’. It is only by engaging in this self-reflexive questioning that we evade the modern compulsion to ‘discipline’” Marilyn Lafay. Hannah Arendt and the specter of totalitarianism (New York: Palgrave Macmillan US, 2014), p. 21.
[25] António Marques, A filosofia e o mal: banalidade e radicalidade do mal de Hannah Arendt a Kant (Lisboa: Relógio d’Água, 2015), p. 104.
[26] David Cesarani, Becoming Eichmann: rethinking the life, crimes and trial of a “desk murderer” (Cambridge: Da Capo Press, 2007). O livro de Cesarani é a primeira biografia completa sobre a vida de Eichmann desde a década de 60. Revela um retrato surpreendente do homem visto como epítome da “banalidade do mal”. Com base em documentos recentemente descobertos, David Cesarani explora o início da carreira de Eichmann, e revela como se tornou um administrador do genocídio. Um “especialista” do Reich em questões judaicas, odioso e brutal.
[27] Cesarani, Becoming Eichmann, pp. 2-4 passim.
[28] António Marques, A filosofia e o mal, p. 107.
[29] Ibid., p. 107
[30] Ibid., p. 108
[31] Boaventura de Sousa Santos, A Crítica da Razão Indolente – Vol. I (Porto: Edições Afrontamento, 2002).
[32] Autor e editor de obras importantes na área de direitos humanos como Human Rights and Empire: the political philosophy of cosmopolitanism (Abingdon/Oxford/New York: Routledge-Cavendish, 2007) e The meanings of rights: the philosophy and social theory of human rights (New York: Cambridge University Press, 2014), Costas Douzinas dialoga com Hannah Arendt em várias de suas obras para fundamentar sua análise aos desafios dos direitos humanos.
[33] Douzinas, Human Rights and Empire, p. 111.
[34] Douzinas, Human Rights and Empire.
[35] Ibid.
[36] Tradução livre da autora. No original: “Hannah Arendt wrote that stateless persons and refugees have no rights because no one wants to oppress them. There are people who have been abandoned in a limbo state beyond oppression and whose rightlessness and desolation is greater than that of the slaves in classical Greece towards whom their masters had important specific duties. For Arendt, citizen rights are the only rights worthy of the name, while the rights of man either do not exist or are a misnomer for some other type of rights. Arendt was right to state that ‘a man who is nothing but a man has lost the very qualities which make it possible for other people to treat him as a man’”. Douzinas, Human Rights and Empire, p. 99.
[37] Douzinas, Human Rights and Empire.
[38] Ibid., pp. 99-100.
[39] Douzinas, Human Rights and Empire.
[40] Tradução livre da autora. No original: “Aid and human rights are the contemporary version of alms and Sunday school” Douzinas, Ibid., p. 194.
[41] Saul Tobias, «Pragmatic pluralism: Arendt, cosmopolitanism, and religion», Sophia 50, nº 1 (2011): 80.
[42] Tese defendida na Universidade de Heidelberg, com orientação de Karl Jaspers, e intitulada Der Liebesbegriff bei Augustin: Versuch einer philosophischen Interpretation (Berlin: Springer, 1929).
![[Imprensa Universitária de Coimbra] Direito, Justiça e Razão: A Resposta Política à Banalidade do Mal em Hannah Arendt](https://marcelauchoa.net/wp-content/uploads/2025/03/screenshot_2025-03-14-09-45-29-654_com.mi_.globalbrowser-edit-1.jpg?w=1024)





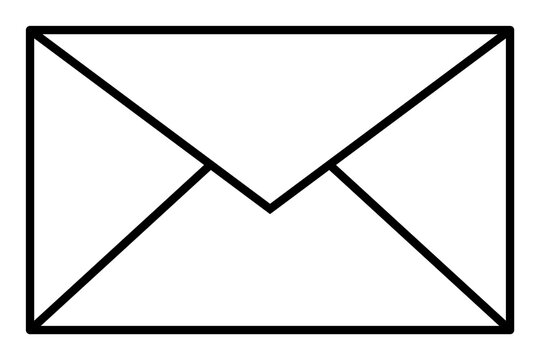
![[Evento] FOLIO: Arendt nos desafios presentes](https://marcelauchoa.net/wp-content/uploads/2025/11/captura-de-ecra-2025-11-08-235932.png?w=737)
![[Maio] A lógica da guerra infinita como estratégia de governo](https://marcelauchoa.net/wp-content/uploads/2025/10/captura-de-ecra-2025-11-08-234256.png?w=819)
![[Evento] Democracia, populismo e extremismo](https://marcelauchoa.net/wp-content/uploads/2025/11/48686_cartaz_-_democracia__populismo_e_extremismo_-_web_-1.jpg?w=1024)
Deixe um comentário